Covid-19 e a "jornada da heroína": meu relato pessoal
Se me permitem, gostaria de fazer um relato pessoal. Não é exatamente o foco desta coluna, onde tento compreender questões da contemporaneidade olhando para a cultura na qual ela foi calcada: para seus mitos, lendas, para o seu passado, sua trajetória. Neste momento tão diverso, gostaria de escrever sobre como está a minha vida depois do aparecimento da Covid-19. Talvez, a gente se conecte de alguma forma.
Situação inicial
Logo nas primeiras semanas, eu tive sintomas. Sim, foram praticamente todos eles – e tudo começou com uma dorzinha de garganta, que logo se proliferou em formas diversas: tosse seca, falta de ar e febre, entre outros. Assim que entendi que eu poderia ter mais do que um resfriado, tentei fazer o teste apenas para dar de cara com a realidade: não tem teste para todo mundo. Depois de ir a alguns postos de saúde, cheguei à conclusão de que o melhor que eu poderia fazer era assumir que tinha realmente Covid-19 e praticar isolamento total.
No meu período afastada de tudo e de todos, entrei em algumas caixas de padrões, que talvez você tenha experienciado (ou talvez ainda esteja passando por elas). Li praticamente todos os artigos científicos em todos os idiomas e plataformas a que tinha acesso, ou os conseguia entender. Também passava meus dias vendo notícias, e a cada dez minutos dava um "refresh", pedindo mais novidades. Mesmo se estivesse deitada, tentando descansar, minha mente logo corria para uma postura paranoica, que trazia lá seus benefícios: me sentia minimamente conectada com o mundo, e um tanto mais segura por ter todas as informações possíveis.
Foram sete dias de sintomas e quinze dias de isolamento completo. Moro em uma casa de vila, e raramente abri a porta, não tomei sol, e, sinceramente, mal olhei para o céu. Não queria me lembrar de que havia coisas lá fora. Foram 15 dias de mudanças rápidas no mundo, e eu tentei compreender tudo que podia, de notícia a notícia. Existe uma certa pressão para se estar bem, não apenas do mundo (permaneça produtiva, não pare), mas também da família, que fica – obviamente – preocupada. Como não tive sintomas fortes, me senti ok a maior parte do tempo, mas devo confessar que tinha medo à noite, quando a tosse se intensificava, e a falta de ar vinha. Era pouca, mas estava lá.

Atena
Descobri muita coisa sobre a Covid-19, incluindo um site que tinha médicos chineses tirando dúvidas das pessoas do mundo inteiro. Contudo, o restante da minha vida paralisou completamente, ou seja, tudo que não tinha a ver com o vírus estava distante de mim. Acho que isso é totalmente normal, mas começou a me incomodar imensamente. Talvez fosse o isolamento – e talvez a gente deva falar mais sobre saúde mental na próxima coluna –, que certamente amplificou a sensação de paranoia, talvez fosse apenas minha maneira de lidar com o que estava acontecendo. De qualquer forma, assim que comecei a me sentir melhor, passei a fazer duas coisas: pesquisar sobre o novo coronavírus online e tentar ser produtiva.
Ou melhor: passei a trabalhar. Sem parar. Não importava se era de noite ou domingo. O que é domingo hoje em dia, inclusive? É tudo dia, dia de focar e dia de permanecer fazendo alguma coisa. Começar projetos, resolver aquela pendência, tirar coisas da frente.
Olhando para trás, percebo que estava tentando não pensar naquilo que eu sentia, e mantinha a mente focada em tudo que podia ser mais facilmente analisado. É aqui que gostaria de trazer para a conversa o "Jornada da Heroína", livro escrito por Maureen Murdock. Afinal, se eu não puder ser heroína da minha própria história, tem algo de seriamente errado comigo.
Murdock argumenta que a jornada da heroína começa com uma situação inicial em que a protagonista se separa de valores considerados femininos em uma cultura, tentando se provar para uma figura paterna. Ou seja, a heroína começa como resultado do que seu pai idealizou. Murdock atribui a esse começo uma ligação entre a heroína e a imagem de Atena, a deusa grega que nasceu diretamente da cabeça de seu pai – ela era considerada uma deusa muito racional e forte, e é assim que vemos a heroína no começo.
Nesse momento, eu era a própria Atena: estratégica, guerreando contra minhas tarefas diárias. E, claro, quanto mais eu trabalhava, mais resultados isso me trazia. Maureen afirma que, depois de muitas provas, a protagonista se torna vitoriosa. Isso a faz ainda mais obstinada a ir atrás de grandes desafios, mas seus sucessos nunca são suficientes para ela, e, assim, ela precisa manter os aplausos. A heroína começa a perceber que tem algo faltando. Nenhuma vitória lhe deixa plena de verdade. Quando ela olha para um espelho, ela não sabe bem quem olha de volta.
Quanto a mim, sim: eu não andava falando de verdade com ninguém, não jogava, lia fantasia, estava totalmente distanciada de mim mesma, daquilo que me faz bem, daquilo que eu amo. Depois de um dia particularmente duro, que fiquei sem conseguir dormir, percebi que nada disso estava me fazendo bem.

Kali
"O que eu perdi nessa busca?", essa é a pergunta que a heroína começa a se questionar na próxima parte da jornada. E foi o que começou a acontecer comigo. Cada um vive isso à sua maneira, para mim são as críticas constantes de se estar na internet. Nunca vou agradar a todos, e meu trabalho deixa isso bem claro em todos os momentos. Para Murdock, "a descida" é essa compreensão da própria incompletude. Isso gera uma tristeza muito grande que pode ser revelada por conta de brigas, da não aceitação, da inquietude. Apenas trabalhar não faz bem a ninguém, não se escutar é ainda pior.
Murdock coloca que esse é o momento em que a heroína abandona o local de seus aliados, e tenta se reconectar com o seu feminino, com as suas figuras maternas. E ainda mais formidável: com as figuras maternas que habitam dentro dela, sejam elas como Deméter – a mãe que dá vida, das colheitas, da terra na mitologia grega, símbolo de morte e ressureição; ou Kali – uma deusa hindu que representa a tríplice: criação, preservação, destruição.
Nomear as coisas é algo extremamente poderoso. Quando nos sentimos angustiados, entender de onde vem e porque estamos assim é o começo do processo de cura, temos que dar nomes aos nossos sentimentos. Para mim, meus medos giram em torno de impotência e abandono. Se eu não for perfeita, por que os outros deveriam estar do meu lado?
É aí que entra Kali. Na mitologia hindu, Kali é maternal de uma outra forma, não tem a imagem bondosa a que estamos acostumados. Ela reina sobre a morte, e, por isso, desperta medo em uma visão em que vida e morte são bem separadas. Na cultura hindu, no entanto, os aspectos de vida e morte estão conectados, e um precisa do outro para existir: é preciso destruir para poder criar de novo. Kali está conectada com os poderes de destruição, mas simboliza vida, permanência e morte. Ela é a Mãe Terrível, mas que pode ajudar a acabar com aquilo que precisa acabar, como os medos e as culpas; além de ensinar que é preciso defender os espaços e lutar pelo que se acredita, ou seja, transmutar a raiva.
Para quebrar meu próprio círculo, eu realmente precisava parar. E assim o fiz. Não trabalhei, joguei, dancei com meus móveis, li. Me dei alguns dias para apenas existir. Passei a tomar um pouco de sol de dia, em vez de ficar apenas na frente do PC. Isso vai resolver todos os meus problemas? Não. Mas, ao menos, posso nomeá-los, e saber que tenho direito a ficar triste, a sentir raiva, a ficar culpada. E mais importante: eu tenho direito de deixar o trabalho, as buscas por novos artigos sobre Covid-19, e de ver toda minha estratégia morrer. Isso não significa que estou menos produtiva. Estou em plena produção, mas de outras coisas: risadas, lágrimas, contemplação e a possibilidade de abrir aquele vinho e olhar para o céu, abraçar as pessoas virtualmente.
Perséfone

Para ser bem sincera, não cheguei ao estágio final da "Jornada da Heroína" nesta quarentena, e não tenho pressa de estar lá, não existe nenhuma linha de vencedores, e nenhum troféu.
Se a gente for levar em conta os escritos de Maureen Murdock, a próxima etapa está ligada à deusa Perséfone. Ela era muito bela e, por isso, Hades, deus do submundo, a raptou. Sua mãe, Deméter, deusa responsável pelas colheitas, começa a destruir as plantações para ter sua filha de volta. Como Perséfone já tinha comido frutos no submundo, ela não podia retornar ao Olimpo para sempre. Ficou combinado que ela passaria três meses com Hades – quando sua mãe se entristece e o inverno chega – e os outros 9 meses do ano com sua família. A primavera representa a subida de Perséfone, e o Outono, a descida ao submundo. Ela virou rainha do submundo e guardiã do mundo dos mortos. Perséfone, assim, representa a parte feminina que desceu até seu sofrimento e, com isso, pode guiar os outros em suas aventuras. Ela amadureceu e pode mediar sua parcela doce e sua parcela obscura.
Ou seja, Perséfone é senhora de dois mundos, ela pode ser Atena e Kali, ambas, ou uma e outra. Eu ainda não me sinto assim. Mas talvez falar sobre isso, e essa coluna em especial, talve seja o início de um novo momento para mim.
Fique bem. Ou então, fique o que você está: fique mal, brigue, chore, ria. Está tudo bem ser mais de uma coisa.











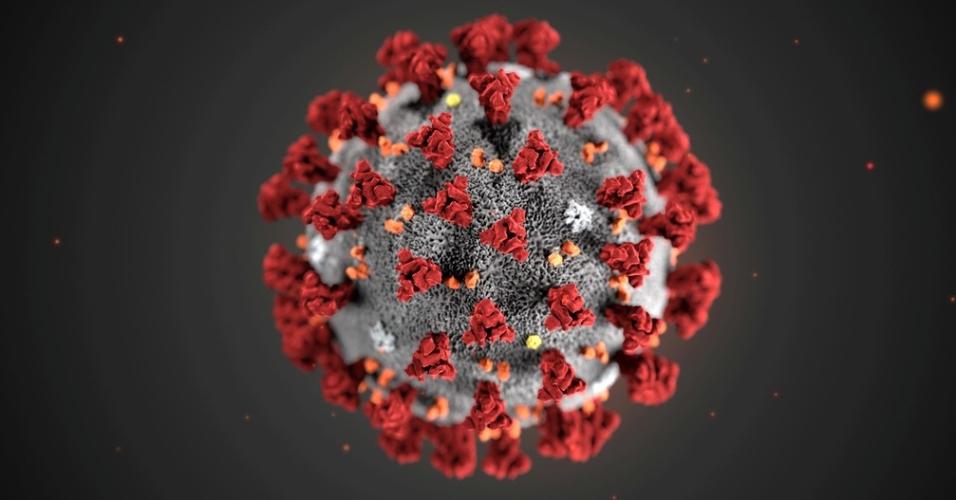


ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.